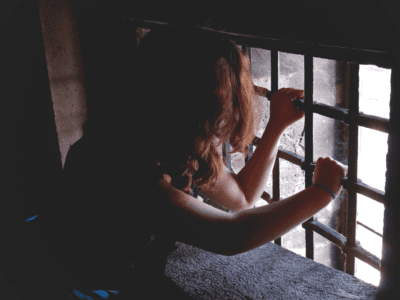Brasil: pela mansidão da Paraíba, de Ponta do Seixas a São Francisco | José Manuel Simões
Nessa noite decidiram hospedar-se num motel pois queriam acordar às 3.45 para ver o primeiro sol das Américas na Ponta de Seixas, João Pessoa, Paraíba. Subiram à torre do Nazareno às 4.45 e, quando já pensavam que as nuvens não iam deixar assistir ao nascer de mais um dia aprazível, eis que ele, o senhor rei dos dias, surge do mar. Enquanto os olhos brilhavam ao sol, lembrou-se que Chico César era dali perto, do interior da Paraíba, para as bandas de Campina Grande. Recordou que a primeira vez que tentou olhá-lo nos olhos percebeu que ele estava envolvido numa imensa teia de tristeza, profunda melancolia, um jeito sem jeito de esconder a timidez, um singular lado doce. Percebeu que Chico – tal como ele – tinha um lado de bicho-do-mato, o que fez com que aceitasse pacificamente o isolamento a que se tinha proposto ao responder-lhe de forma invariavelmente esquiva e fugaz.
Abeirou-se de mansinho, não querendo perturbar-lhe a solidão, expressando admiração pelas suas letras politizadas e peculiares arranjos para guitarra. Nem assim o conseguiu demover da postura distanciada, aparência marcante com o cabelo multicolorido elevado em forma de abacaxi. Não entendendo o porquê daquela mente sensível não abrir espaço a uma aproximação mais íntima, começou a ficar inquieto com as reservas. Ouviu-o dizer, sem deixar os olhos pousarem nos seus, que a profissão de jornalista o ensinou “a ter paciência, a saber esperar e a aprimorar a relação com as palavras”, contou que a sua descendência de negro, índio e branco se traduz “em algo interior que tem vindo a crescer e que me faz procurar parcerias junto de outros artistas numa perspetiva cada vez menos conservadora e mais transformadora”, mas de si, rigorosamente nada.
Voltou a reiterar-lhe, sincero, que gostava de o ouvir, que apreciava a forma como consegue transmitir fé sem dogma, mas continuava a vê-lo desgostoso, ainda mais quando falaram dos novos muros e da desnutrição de crianças; as interrogações no limite do desespero e da solidão; “que Deus é esse que deixa as pessoas serem dilaceradas pela impotência de quase nada poderem fazer?” Sentindo-o cada vez mais num quadro de asfixia, lamentou que o seu enorme talento não tivesse correspondência na extroversão. Naquela noite recordou que, ao ouvi-lo falar, foi estranhamente remetido para o dia de tempestade em que – foi Lenine que certa noite na Foz do Porto lhe contou – Chico César nasceu, raios e trovoada, ele a respirar com dificuldade, a chorar copiosamente. E interrogava-se: será por isso que é tão melancólico?
Penetraram na Baía da Traição ainda pela manhã. Pese embora a quantidade anormal de moscas e as lendas de que as águas locais são traiçoeiras e de que muitos barcos foram ali afundados por piratas, tiveram uma boa primeira impressão, sentindo uma espécie de magia no ar.
Tinham lido que esta era terra de surfistas mas, talvez devido à invasão das moscas, não viram praticamente ninguém. Num artigo publicado no Globo Turismo, referia-se que, ali perto, havia uma reserva com 5 mil e 500 índios, alguns em povoações costeiras que proibiam os estranhos de se banharem nas suas águas. “Os índios são pacíficos e algumas aldeias gostam de receber. Outras, temendo “costumes brancos”, evitam a convivência mais próxima, principalmente com os surfistas, tidos por alguns chefes de aldeias como pragas, por difundirem a maconha entre os seus jovens”.
Surpreenderam-se com o facto de estarem muito perto de aldeias indígenas e ficaram a saber que a praia do Tambá, na Aldeia Galego, era cercada por um “altiplano cujas paredes contêm desde pequenas cavernas a desenhos curiosos esculpidos pelas águas”; que a das Cardosas “têm uma areia incrivelmente branca e águas transparentes”; que a do Forte “abriga um posto da Funai”, sigla apresentada como sendo a Fundação de Proteção ao Índio, “três canhões holandeses expulsos pelos portugueses em 1625”. O mesmo artigo referia que “no dia 19 de Abril, Dia do Índio, os Potiguara descem à Baía da Traição para apresentar a dança do toré, que envolve mais de 100 participantes e fala de suas guerras, das pescarias, da paz e do amor. Ao som do bombo, da maraca e da gaita, eles dançam na praça principal da cidade enquanto cantam: “Os caboclos da aldeia, quando vão para o mar pescar, dos cabelos fazem fio, do fio fazem landuar”.
No semblante das poucas pessoas com quem se cruzaram na Baía da Traição percebem-se traços fortes dos Potiguara, a nação indígena cujos remanescentes dão ao local a condição de um dos pontos mais históricos do Nordeste Brasileiro. O jeito de ser dos nativos depressa contagia o visitante, que adota como estilo de vida a mansidão de quem vive em lugar próximo ao paraíso. Do bar, o “Tubarão”, onde se encontravam, mãos nas mãos em silêncio de afins, viam-se coqueiros a perder de vista, praias virgens, o mar manso, algumas embarcações. Terminava o texto: “Baía da Traição teve seu povoamento iniciado por colonos portugueses e nativos, em 1599, depois da pacificação dos Potiguara. Avessos à colonização, os índios haviam-se aliado aos franceses e holandeses.
Inscrições à entrada da cidade lembram o termo Acajutibiró, nome que os índios davam à região e que alguns tupinólogos traduzem como “sítio com abundância de cajus”. Vislumbrou num minucioso mapa que existia um trilho que atravessava a reserva indígena, da Baía da Traição até Marcação. Aventuraram-se.
Em São Francisco, ao se deparar com ocas de madeira, varas espetadas no chão, em roda, arqueadas, unidas à altura de uns quatro metros, amarradas a um barrote central que atravessava o teto, uns círculos horizontais a completar o vigamento, cobertas com palha de coqueiro à maneira das telhas, percebeu que ali viviam remanescentes de uma tribo indígena. Ao chegar à aldeia, as ocas bordadas por frondosas árvores, pés de jambo floridos de vermelho e branco, odor adocicado e excitante, parou, extasiado. Saiu do carro para fotografar e percebeu que os índios se esconderam, apressados, os pés alvoraçados por cima das folhas secas. Certamente que nunca antes tinham visto um automóvel. Seriam hostis? Maravilhado com a paisagem, um misto de respeito e receio, abeirou-se de uma palhota, espreitou pela janela e, surpreendido, viu que um bebé recém-nascido dormia solitário numa rede de pano pendurada entre dois paus. Fotografou-o e, pela lente da máquina, vislumbrou aparecer uma flecha, lenta e continuadamente, a um canto da porta de palha das traseiras da casa. Receoso, entre ficar ou fugir, decidiu-se pela palavra. “Senhor, por favor, venho por bem. Gostaria de vos conhecer. Sou de longe, de Portugal, talvez pudéssemos conversar; tenho uns presentes para vos dar”. Falava, suavemente, quase em surdina, também para não despertar a linda bebé que dormitava na rede e tentar, por boas maneiras, aproximar o rosto do índio que imaginava mas não via. A seta continuava a apontar na sua direção e, temendo o pior, entrou no carro que tinha deixado ligado e arrancou. Pelo espelho retrovisor apercebeu-se que um grupo de mulheres, seios à mostra e as partes íntimas cobertas com um véu de palha de coqueiro, apareceu por entre os cajueiros para se certificar da partida dos intrusos.
“Agora percebo a magia que paira no ar de uma aldeia de índios. Lá dentro da palhota vi uma bebé tão serena que me arrepiou. Confesso-te que tive medo. Alguém estava escondido com uma seta apontada a mim. Será que, se eu não viesse embora, o índio ia atirar a flecha?”, insistia enquanto conduzia o automóvel de cor creme pelo trilho de areia, o receio que atolasse naquele lugar ermo e longe de tudo. Mesmo que apreensivo, não parava de contar histórias, e estórias, Sofia fascinada com o que ouvia e com a forma como ele partilhava as aventuras; atraída pelo seu lado místico; admirada com as suas verdades que pareciam romance. “Que homem maravilhoso” – pensava enquanto lhe apertava a mão com mais força, sorriso a brotar, crescentemente apaixonada.


José Manuel Simões é Professor Associado e Coordenador do Departamento de ‘Communication and Media’ da Universidade de São José, Macau-China. Tem um pós-doutoramento em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, doutoramento em ‘Global Studies’ na Universidade de São José e Mestrado em Comunicação e Jornalismo na Universidade de Coimbra. É especialista em assuntos do Brasil, país sobre o qual já publicou três livros, dezenas de artigos académicos e centenas de artigos jornalísticos.