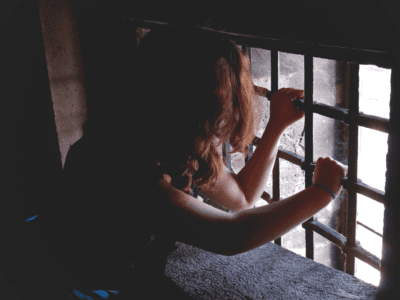Quando era menino acompanhava pelo rádio as dramáticas narrativas dos homens que transformavam partidas de futebol em autênticas sagas épicas. E desse tempo guardei três metáforas sonoras, se assim posso me expressar.
A primeira se referia a um jogo de antigamente, quando ainda existia nos campos um tal Domingos da Guia, chamado Divino. O comentarista, cheio de hipérboles, se referia a uma batalha da seleção brasileira no Estádio Centenário, em Montevidéu. E nessa peleja, segundo testemunho insuspeito do homem de rádio, o Domingos, pai do Ademir da Guia, fez uma jogada tão genial, firula inigualável, “que até as colunas do estádio se curvaram em reverência ao artista da bola”. Ouvi e guardei, como digna da minha coleção no imaginário futebolístico.
A segunda imagem, bem mais recente, viajou pelas ondas da Rádio Itatiaia na voz do saudoso Oswaldo Faria, que certamente estava citando alguém: “foi uma jogada de mestre, a torcida deveria sair do estádio e comprar outro ingresso.”
Ainda estão comigo? Então cito a terceira imagem, essa usada à exaustão por nossos prosopopeicos radialistas: “o gol foi uma obra de arte, uma perfeição. Até Picasso assinaria essa pintura! Foi tão bonito que os deuses do futebol estão festejando com essa chuva fina que começou a cair!”
Mídia e futebol têm parceria firmada sob o beneplácito de quem detém o poder. Audiência é sinônimo de lucro e ambos levam à dominação. E toda essa “harmonia” só é possível graças ao grande valor da sensibilização popular que o jogo de bola encerra em si mesmo, um carisma capaz de provocar atitudes e reações mais ou menos “previsíveis”, permitindo aos meios de comunicação de massa, mesmo inconscientemente, uma ousadia maior.
Esse complexo mecanismo é chamado por Paul Lazarsfeld e Robert Merton (em Comunicação de massa, gosto e ação social organizada) de “disfunção narcotizante”, que tendem a fazer com que, durante a transmissão de um jogo, por exemplo, o espectador não “se atreva a raciocinar, interpretar o lance que viu, aguardando a palavra do narrador, como se numa fração de segundo desse um branco em sua mente” e, ao mesmo tempo, tenha a sensação de estar participando daquele momento, resgatando por alguns instantes a individualidade sufocada pelo mundo real.
O diamantinense Antônio Torres, que foi padre, jornalista e escritor, aliava um pessimismo cínico ao sarcasmo impiedoso. E o panfletário terrível, que surrava os poderosos e mostrava a mediocridade dos donos do mundo, também não perdoou os exageros retóricos e o clima passional com que os cronistas tratavam a nobre arte de “dar pontapés numa bola cheia de vento”, como se fosse uma questão de salvação nacional.
E os comentaristas? São meros legitimadores do óbvio; abusam da (pseudo) competência como se fossem astrólogos ou profetas que, escudados por um discurso (saber-poder) técnico, “possuem” a virtude da onipresença. E da onisciência, pois pretendem dominar todos os saberes.
Conhecedora de seu poder hipnótico, a televisão pretende monopolizar todos os sentidos do telespectador e, num processo rápido, não lhe deixa espaço ou tempo para que faça sua própria análise sobre o esporte transmitido, e até mesmo sobre a publicidade ou outras mensagens subliminares. Sem perceber, ele torna-se um teleguiado, quase um “bobo”. E isso aumenta na proporção do fanatismo de cada um: quanto mais fanático menor o seu grau de discernimento.
Para tingir de erudição o arrazoado, arrisco citar Muniz Sodré, doutor no mister de comunicar. No livro O monopólio da fala ele explica que essa complementaridade de sentidos (quando o torcedor vai ao estádio e leva o radinho para acompanhar melhor o jogo), o monólogo é uma constante. “Nos media, a relação informativa, ao estabelecerem o monopólio do discurso, eliminaram a possibilidade de resposta e originam um poder absoluto, inédito na história: a hegemonia tecnológica do falante sobre o ouvinte.”
Sempre apreciei o futebol. Torço, mas não me deixo influenciar pela narração dos gogós de ouro ou pelos “donos da verdade”. Muito menos pelo bestialógico que inunda as locuções. Que cada um vá ao estádio ou acompanhe o jogo pela TV. E, com o rádio ligado, perceberá que a bola que “passou raspando, tirando tinta da trave” foi chutada a mais de três metros da rede. O atacante que, pelo rádio, driblou três ou quatro adversários, mal e mal superou um, trombou no outro e nada mais, além da prosódia exagerada, que é uma forma de adequar os fatos superdimensionados à dramaticidade do jogo.
Testemunhar os fatos, no estádio ou através do realismo imagético da televisão, nos faz perceber que, ao contrário do lance romanceado, ocorre algo muito diferente. O jogador não planeja nada, não calcula centímetros, muito menos milímetros; apenas se livra da bola com um chute e ela, obediente às leis da física, “balança (ou não) o ninho da coruja”, para citar outra expressão comum nas narrações esportivas.
Em texto antigo publicado pelo finado Jornal do Brasil que fazia uma interessante comparação entre o futebol dos anos 60/70 e o de hoje e, entre muitas conclusões, uma salta aos olhos, sobretudo se o mergulho no tempo for mais profundo. E como não gosto de me apropriar dos escritos alheios, faço questão de dizer a quem pertence a frase seguinte, que é do Nuno Ramos, artista plástico sensível à estética dos movimentos em campo e que foi publicada pela Folha de S.Paulo. Ele escreveu que “mais do que o estilo de jogo, o número de faltas ou o preparo físico, o que realmente mudou no futebol foi a forma de registrá-lo. O próprio da transmissão radiofônica é a hipérbole, a maximização da emoção por meio dos achados de cada locutor… é a aceleração até o paroxismo no ritmo das palavras, criando uma suspensão insuportável que o longo e monocórdico grito de gol, comum a todos os locutores, tem a função de aliviar.”
Concordo, mas nem por isso vou deixar de vibrar nos gols e desejar que os sopradores de apito que prejudicam o clube do meu coração purguem os pecados no caldeirão do tinhoso.
Tenho escrito!


Fotografia de Hermínio Prates
Hermínio Prates é jornalista, escritor, ex-professor universitário de Jornalismo, Rádio e Teoria da Comunicação na UFMG, UNI-BH, PUC e Newton de Paiva. Foi repórter e redator do Diário de Minas, Jornal de Minas, Minas Gerais, Rádio Itatiaia, diretor de Jornalismo da Rádio Inconfidência, chefe das Assessorias de Comunicação das Câmaras Municipais de Sabará e de Belo Horizonte e da UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais. Publica regularmente contos, crônicas e artigos em vários jornais mineiros. Autor dos livros Família Miranda – Vidas e Histórias ( ensaio historiográfico) e A Amante de Drummond (contos).