

“Evocação de Arembepe”
Arembepe
não a cidade da lua
não a terra de Joplin
não a cidade imaginada de Luís
nem a cercania que invadia o verão –
os turistas e o sol como um só
mas a rua de meio de semana
Arembepe do silvo e do sal
Arembepe de minha infância
o lugar cativo de Catita do acarajé
[ geografia inteira em um sorriso
o busto Borges que a poeta confessou seu avô
domingo a domingo, uma novela capitulava a memória
a gente nem percebia a vida
do ônibus gritavam:
Salvador!
Salvador!
as lavadeiras tornando do Capivara:
Mandei caiá meu sobrado… mandei, mandei, mandei
Mandei caiá meu sobrado… caiá de amarelo
Mas cadê meu lenço branco… ô lavadeira
Que eu lhe dei para lavar… ô lavadeira
Madrugada madrugou … ô lavadeira
E o sereno serenou … ô lavadeira
de repente o dia
de repente a noite
de repente o dia
de repente a noite
as tramas no ganho da madrugada
não serenam a árvore outonal
que vence solitária o tempo,
porque do vento condição
fez-se rima
com a sina
das Carolinas de Jesus, de Maria,
de José, da curva do rio que declara
à escuridão a sua
vontade de mar:
dentro da asa do beija-flor
essas imagens, sons,
um filme passando
enquanto o café quente
acalma as monções
da manhã
repetida de uma segunda
sem fim, obscura, artesanal.
alguém
interrompe o som da chuva,
calmamente
muda de lugar
o elefante azul
como quem projeta a paz
Arembepe,
como custa a fé e a terra.
“Intimamente”
quando hoje acordei
na manhã de São João,
havia o cheiro do milho
empurrando para a luz
que pendia na memória
o carinho de uma tarde.
fogueiras montadas pela rua
fugidia que afirma sua transitoriedade
quando festa, quando vida.
apenas o silvo do trem
[que não passa mais
invade e fica.
onde estão os nossos corações?
outras eras,
quimeras.
— estão todos acostumados,
estão todos cerrados.
sumindo,
intimamente.
quando eu tinha a infância
não compreendia a noite de São João.
e me encantava com as luzes
das estrelas.
hoje não escuto mais os corações batendo
velhos
novos
atordoados
derretidos
onde está o sangue?
— estão todos acostumados,
estão todos perdidos.
sumindo,
intimamente.
“Dançar”
uns tomam a marginal, outros as notícias.
eu já tomei solidão, hoje tomo caroços
de feijão sobre a mesa.
não posso ser triste nesta vida.
mas o absoluto invade as certezas.
tempo imoral.
e nunca mais o sol se foi.
perder é ganhar dentro, desdigo.
ganhar do jogo inconfessável.
tabular os motivos da dança.
simplesmente,
enquanto todos ao centro
soletram o mesmo gozo
em passos repetidos.
solfejo.
não sei dançar, rindo
sem sibilar, um pé para lá,
sem penar, um pé para cá.
e fecho os olhos quando penso
eu tomo alegria.
“Mansãozinha familiar”
folhas de papel francês voando.
janelas abertas na mansãozinha.
rosas de prata em jarro de porcelana.
arquitetura em detalhe pagão conservado religiosamente.
sol achando o tempo descascando a pintura da parede.
passarinhos
entram,
saem.
sob as palavras, em caneta de ouro,
nas folhas apáticas, ratinho,
seu movimento confundido com o vento:
– roía as gotas de sopa displicentes no papel.
“Prosaico”
estou farto dos livrismos
dos livros como espelhos.
dos livros que refletem os tons do cabelo.
estou farto de reparar nos espinhos suaves.
abaixo os mercadores.
todos os sorrisos e adjetivos.
todas as danças de cadeira.
todos os donos do mundo.
estou farto dos livrismos
políticos
linguísticos
míticos
– cinematográficos
de todo livrismo
[livrai-me.
“Lagartixinha na cozinha”
quando completei trinta e oito anos
encontrei uma lagartixinha na cozinha.
que imagem mais comum não existia,
porque a infância fundia-se ao presente
enquanto caminhava lentamente no teto.
as contas, bitucas, contratos, afagos
acompanhava em silêncio todo dizer.
não fazia nem sombra de mínimo afeto…
— a lagartixinha na cozinha foi a minha primeira terapeuta
“Poema tirado de uma postagem de rede social”
Duda Sol era produtor de conteúdo digital e morava em um prédio novo
[na Barra
desanimado, em uma noite, encheu a galeria com selfies na orla
editou
marcou
repostou
depois foi assaltado na via displicente olhando os likes.
“Oração nas areias de Diogo”
nossa senhora me dê resiliência
para destes ares crer noutras idas!
me dê resiliência pra que eu não saia
pra que eu não finde com a consciência
vã da proferida palavra sem vida, crida
assim, como a sumaré de Atalaia.
“Sofrê”
Corrupião que embebedas a tarde:
— sofrê, sofrê!
Corrupião, diga-me a verdade:
— não crer, não crer.
“O último verso”
assim eu saberia de um último verso.
como o bilhete perdido do último trem.
a mão trêmula da mãe sobre o filho.
a venda da casa que fundou a família.
a folha seca esfarelando ao vento.
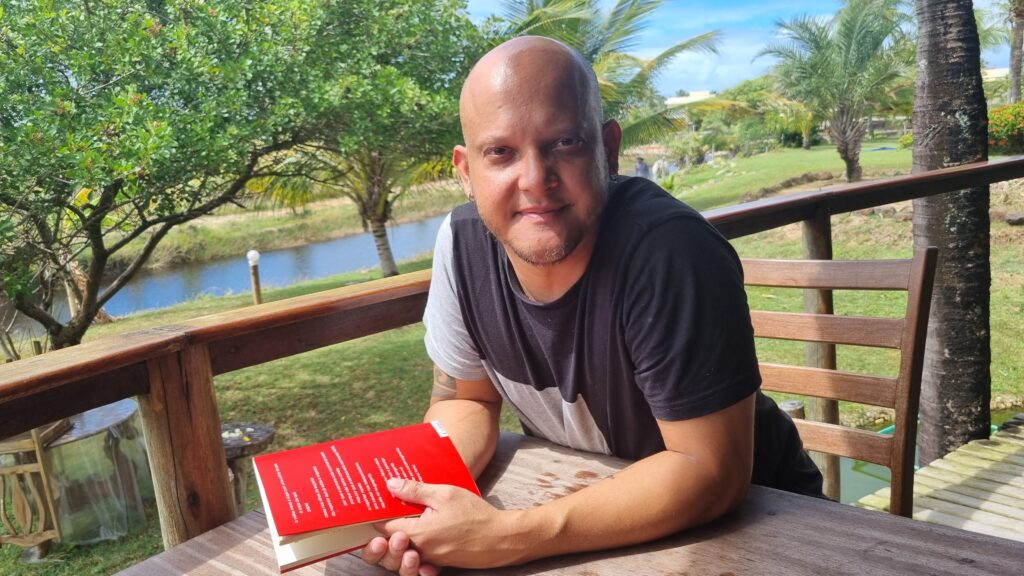
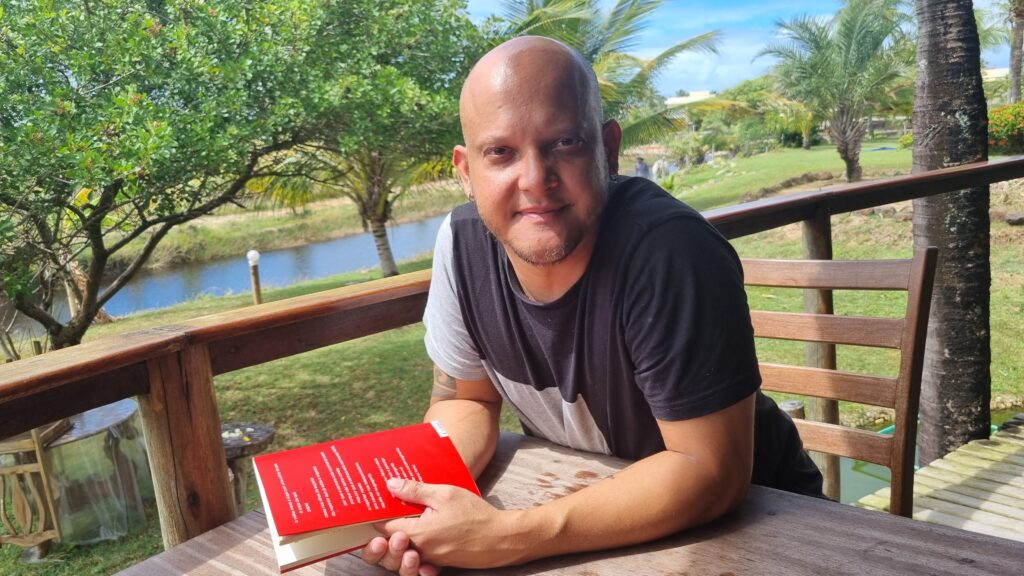
Fotografia de Tiago D. Oliveira
Tiago D. Oliveira é de Salvador-BA, escritor, poeta, professor e pesquisador. Tem poemas publicados em revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Publicou As solas dos pés de meu avô, 2019, no Brasil e em 2021 em Portugal. O livro Mainha, em 2021. Para além de 22 – um roteiro poético da semana de arte, em 2022, entre outros. Foi finalista do prêmio Oceanos 2020 e Vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020.

















