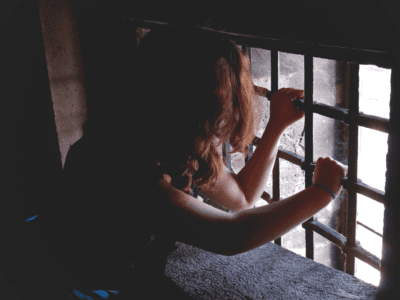“O que a história relata é de fato apenas o que corresponde
ao longo, confuso e pesado sonho da humanidade.”
(Arthur Schopenhauer)
***
“A única realidade suscetível de ser observada é o animal humano multitudinário, com seus objetivos, valores e modos de vida conflitantes.”
(John Gray)
Nietzsche dizia que “o homem é um animal ainda não estabilizado”. Assim como ele, muitos outros filósofos e pensadores influentes, sobretudo aqueles mais ligados ao campo da sociologia e da antropologia, tentaram compreender a complexidade da natureza humana. Depois que se percebeu que o cristianismo que sustentava os regimes absolutistas medievais revelou-se incapaz de dar conta de viabilizar a continuidade da intratável e tortuosa convivência humana, pelo menos três visões têm sido mais recorrentes para explicar as contradições e os conflitos do comportamento humano e, ao mesmo tempo, tentar justificar o surgimento do Estado como a última síntese hegeliana de aprimoramento da humanidade e de contenção das instabilidades inerentes às pulsões humanas. São elas:
1) a ideia de Thomas Hobbes (1588-1679) de que “o homem é o lobo do homem”, afirmação oriunda da expressão latina “Lupus est homo homini lupus”, criada pelo dramaturgo romano Plauto (254-184 a.C.). Para Hobbes, o homem já vem ao mundo, tal como a suposta natureza predatória do lobo, naturalmente propenso e destinado à violência, a qual só pode ser contida por meio da manutenção forçada da ordem, a cargo do poder soberano do Estado e de suas leis;
2) a noção de que “o homem é uma tábula rasa”, um livro a ser escrito conforme a nossa experiência com o mundo, proposta por John Locke (1632-1704), considerado o “pai do liberalismo”, que suaviza um pouco a visão de Hobbes ao propor que os humanos são pacíficos, estando, no entanto, condenados a viver em permanente litígio e disputa, a serem mediados pelo Estado, único ente capaz de assegurar o “direito natural” dos homens aos bens materiais, especialmente o direito à propriedade;
3) por último, o “bom selvagem” de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), para quem “o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe”. Nesse caso, a propriedade privada parece ser a causa das desigualdades e das tragédias que forjaram a nossa civilização, daí a necessidade do Estado para tentar garantir a “vontade geral”, propósito este que tem se revelado cada dia mais irrealizável.
Hobbes, Locke e Rousseau desenvolveram essas visões a partir de suas construções teóricas – com características muito peculiares em cada um deles e com uma boa carga de influência teológica sob a qual viveram – acerca do que se convencionou chamar “estado natural” ou “estado de natureza”, quando o homem ainda não era demandado a agir politicamente uma vez que não havia sociedade civil, isto é, ainda não existia a convivência na pólis que requer uma série de regramentos para pôr ordem nas relações humanas. Nesse estado de natureza, os indivíduos seriam livres e iguais, assim como os outros animais.
Com o surgimento gradual de grandes agrupamentos humanos, normalmente forjados à custa de guerras e massacres sangrentos, sobreveio a necessidade de se estabelecer contratos sociais para regular a vida coletiva e, em especial, o “direito natural” à propriedade, fazendo irromper o que hoje conhecemos por sociedade civil. Na ausência dessas regulações, os humanos estariam condenados a viver em uma guerra permanente e autodestrutiva de todos contra todos e, dessa forma, provavelmente já teríamos sucumbido.
A visão de Hobbes, de que o homem comporta-se como um lobo, cuja natureza é supostamente voraz, predadora, destrutiva e, portanto, não confiável, parece ser a mais aceita nas atuais circunstâncias em que o individualismo e o narcisismo guiam o sistema-mundo capitalista globalizado. No entanto, trata-se de uma comparação muito injusta para com o lobo, que foi antropomorfizado para justificar e legitimar a conduta humana rapinante. A única antropomorfização que pode ser considerada uma representação fiel do comportamento humano são as instituições criadas pelo homem, especialmente as religiões, o Estado e o mercado, que, em uma avassaladora simbiose, estão nos arrastando para um colapso civilizatório neste século XXI.
Só a visão de Rousseau parece oferecer alguma chance de esperança em vermos um dia o impulso humano reconciliado com a sua condição de “bom selvagem”, desde que a sociedade e suas instituições, que são constructos humanos, deixem de aviltá-lo e deformá-lo. Nesse caso, seria preciso pôr em curso a tarefa hercúlea de tentar regenerar o Estado hobbesiano, dissipar a fantasia da salvação prometida pelas religiões e desmistificar o mito do progresso que alimenta o acúmulo insano do capital à custa da devastação e do esgotamento dos ecossistemas da Terra, que talvez já estejam irreversivelmente comprometidos.
O fato é que o animal humano comporta-se de uma forma muito distinta e contraditória em relação aos demais animais. Estes, mesmo tendo que conviver em comunidades bem mais numerosas e aparentemente mais caóticas do que a dos humanos, nunca criaram problemas tão insolúveis e degradantes quanto os observados nas sociedades humanas. Se buscarmos então uma complementariedade entre todas as visões já elaboradas em torno da natureza humana, e se considerarmos, principalmente, a atual situação de crise planetária em que se encontra a humanidade, talvez seja mais sensato e útil percebermos que o homem é o único animal sobre a face da Terra que se encontra desenraizado e, por essa razão, vem arrastando a civilização para uma inaudita perspectiva de colapso global iminente.
Os acontecimentos políticos, sociais e ambientais em curso são inequívocos, e nos dizem que estamos deslizando para uma profunda agonia civilizatória que provavelmente tornará este século XXI intratável, como vêm apontando muitos especialistas, sobretudo aqueles dedicados às ciências da Terra que estão investigando as profundas alterações geofísicas provocadas pela atividade antrópica rapinante. Mas como se deu esse desenraizamento humano, que nos trouxe para esse cenário tão emblemático e distópico?
A grande bifurcação cultural desenraizadora
A partir dessa perspectiva de desenraizamento, isto é, de que o homem se desconectou de sua condição natural, as origens da grave crise civilizatória que enfrentamos na contemporaneidade – aliás, para muitos historiadores o curso da civilização tem sido uma crise contínua – não está no fracasso dos muitos modelos de convivência humana já experimentados, mas na cultura subjacente que amparou, por milênios, os diversos modos de viver dos humanos, desenraizando-os cada vez mais de sua natureza animal.
Essa ideia de animal desenraizado parte do pressuposto de que o homem, em algum momento do neolítico, apartou-se de sua condição natural, situação em que as dimensões biológica e cultural perderam a sua congruência no animal chamado homo sapiens, diferentemente do que ocorre com os outros animais que sempre mantiveram uma coerência biológico-comportamental e, portanto, sempre estiveram enraizados à natureza da qual são parte inseparável e interdependente. No caso do homo sapiens, parece ter ocorrido uma espécie de desvio ontológico em que, gradualmente, sobreveio um crescente e perigoso solipsismo humano, no qual o homem colocou-se no centro da realidade, para o qual tudo deve convergir. Assim, ele foi se distanciando cada vez mais da condição natural dos animais que habitam e coexistem em uma grande rede de interdependência que caracteriza a dinâmica que sustenta a biosfera terrestre. Isto é, a experiência humana e todo o curso da sua história foram condicionados pela prevalência de uma cultura que se convencionou chamar de cultura patriarcal.
Quanto a esse pressuposto cultural, cabe aqui fazer os seguintes esclarecimentos:
1) a noção de cultura patriarcal aqui utilizada trata-se de um modo de viver que se caracteriza, conforme os estudos do neurobiólogo chileno Humberto Maturana, falecido recentemente, “pelas coordenações de ações e emoções que fazem de nossa vida cotidiana um modo de coexistência que valoriza a guerra, a competição, a luta, as hierarquias, a autoridade, o poder, a procriação, o crescimento, a apropriação de recursos e a justificação racional do controle e da dominação dos outros por meio da apropriação da verdade”.
2) a cultura patriarcal e os comportamentos dela derivados, que delimitaram os diversos modos de viver dos humanos, são resultantes de uma circunstância histórica e não algo inerente à natureza humana. Ou seja, o patriarcado é a manifestação de uma cultura (capacidades desenvolvidas, no sentido antropológico do termo), e não uma condição existencial imutável, conforme evidenciado pela arqueologia, que, segundo Maturana, “nos mostra que a cultura pré-patriarcal (matrística) europeia foi brutalmente destruída por povos pastores patriarcais, que hoje chamamos de indo-europeus e que vieram do Leste, há cerca de sete ou seis mil anos”. Os achados arqueológicos que sustentam essa bifurcação cultural estão registrados principalmente nos estudos da arqueóloga lituana Marija Gimbutas, os quais foram sintetizados no livro O Cálice e a Espada: nossa história, nosso futuro (Palas Athena, 2008) da escritora e socióloga austríaca Riane Eisler.
3) a cultura matrística pré-patriarcal era, conforme também podia se inferir dos estudos arqueológicos, caracterizada por “conversações de participação, inclusão, colaboração, compreensão, acordo, respeito e co-inspiração”, atributos que evidenciavam, ainda conforme Maturana, uma cultura “centrada no amor e na estética, na consciência da harmonia espontânea de todo o vivo e do não-vivo, em seu fluxo contínuo de ciclos entrelaçados de transformação de vida e morte”.
Daí a urgência de compreendermos a crise civilizatória atual a partir do comportamento humano forjado nessa cultura patriarcal milenar, conforme a concepção proposta por Maturana, e irmos além do senso comum que traduz o patriarcado, em regra, pelo comportamento machista, facilmente observado no cotidiano das sociedades. Entendimento este, alimentado inclusive pelo meio acadêmico, que tende a reduzi-lo a um sistema de dominação e opressão do homem sobre a mulher. Estas são apenas as expressões mais visíveis do patriarcado. A noção de cultura patriarcal é bem mais ampla e profunda do que isso. Seu oposto não seria a cultura matriarcal, que nessa lógica binária de disputa de forças entre homem e mulher teria o mesmo sentido de hierarquia do patriarcado, no caso, a relação de superioridade e de dominação do feminino sobre o masculino.
Inclusive, os estudos de Maturana sobre a cultura patriarcal convergem em muitos pontos com a concepção de “servidão voluntária” desenvolvida em 1549 pelo filósofo francês Étienne de La Boétie, para quem “a primeira razão da servidão voluntária é o hábito” e que, portanto, “temos de procurar saber como esse desejo teimoso de servir se foi enraizando a ponto de o amor à liberdade parecer coisa pouco natural”. A “servidão voluntária” funciona como uma espécie de mecanismo psicológico de reprodução e sustentação intergeracional da cultura patriarcal, mudando apenas as estruturas de dominação hegemônicas em cada época histórica. Atualmente, elas estão ancoradas na simbiose que se estabeleceu entre capital e tecnologia. A cultura patriarcal tenta agora moldar as realidades segundo uma visão tecnomercantilista de mundo, o que só tem ampliado o mal-estar da civilização e a aflição humana, como veremos a seguir.
A agonia patriarcal, a partir de Freud
Uma das formas de compreensão de que o sofrimento humano resulta de um desdobramento do processo civilizatório forjado no patriarcado pode ser observada no inestimável legado deixado por Sigmund Freud (1856-1939), o criador da psicanálise. Embora seu interesse investigativo estivesse mais voltado ao aperfeiçoamento dos tratamentos dos distúrbios mentais, na verdade seus estudos sobre as pulsões da psique humana são muito úteis para entendermos a dinâmica que mantém a cultura patriarcal e como ela desencadeou tanto sofrimento humano ao longo da história.
Se vivesse em nossa época, Freud provavelmente agregaria muitos insights que poderiam ampliar ainda mais a sua percepção em torno dos conflitos humanos e do consequente mal-estar civilizacional gerado. Sobretudo porque ele teria à sua disposição não só os novos aportes teóricos surgidos a partir da segunda metade século XX, mas também a experiência de observar o comportamento humano frente aos novos fenômenos que se sucederam na contemporaneidade, como superpopulação, consumismo, hegemonia capitalista, mudanças climáticas, globalização, algoritmização da vida, neoliberalismo, dentre outros desarranjos antrópicos. É importante frisar este aspecto porque Freud desenvolveu sua concepção de mundo no seio do pensamento iluminista, positivista e racionalista, vigente à sua época, no qual sua formação estava imersa, e, ainda assim, ele parece ter captado muitos aspectos da cultura patriarcal milenar, embora seu objeto de estudo fosse outro: o de desenvolver uma prática médica que soubesse lidar melhor com as muitas patologias associadas à psique humana.
Em uma das suas mais estudas e reverenciadas obras, O mal-estar da civilização (1930), Freud assim resumiu as fontes do sofrimento humano:
“Nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa constituição. É bem menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os outros seres humanos.”
Embora algumas concepções elaboradas por Freud, como a de que uma propensão à infelicidade estaria na essência constitutiva da natureza humana, como explicitado na passagem acima, talvez mereça ser reexaminada com mais cautela, as tais fontes do sofrimento humano por ele identificadas, são muito úteis para compreendermos a atual condição humana, quando a vinculamos com a ideia de que o percurso civilizatório foi guiado pela cultura de dominação patriarcal, tal como compreendido por Humberto Maturana.
Uma das premissas de Freud para desvendar os conflitos da psique humana está na tensão entre o que ele chama de “princípio do prazer” e o “princípio da realidade”, o confronto entre o Eu e o que se situa “fora” dele, entre o mundo interior e o mundo exterior. Segundo Freud, “este princípio (do prazer) domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo; não há dúvidas quanto à sua adequação, mas seu programa está em desacordo com o mundo inteiro, tanto o macrocosmo como o microcosmo.” Mas o que é a cultura patriarcal senão uma inútil tentativa de desacoplamento entre o indivíduo e o seu mundo, ao contrário da cultura matrística pré-patriarcal em que, tal como definida por Maturana, o animal humano encontrava-se acoplado às dinâmicas da teia da vida. A tensão freudiana entre “princípio do prazer” e “princípio da realidade” parece guardar grande equivalência com o embate entre o patriarcado e a complexidade do mundo real.
Freud também manifestava uma dificuldade de acolher a ideia de um “sentimento oceânico” proposta pelo seu amigo Romain Rolland, biógrafo e músico francês, Nobel de Literatura (1915). Rolland acreditava ser o homem portador de um sentimento que estaria associado à fonte de energia religiosa de “ser um com o mundo externo como um todo” – a religião aqui está vinculada ao seu sentido de religação (do latim religare) e não de dominação e submissão, ideia mais presente nas religiões monoteístas, sobre as quais Freud tinha uma posição muito crítica. Freud, talvez por não se dar conta de ter sua formação intelectual influenciada a partir de crenças e concepções patriarcais de mundo da sua época, reconhecia essa dificuldade em aceitar a possibilidade desse acoplamento existencial entre o indivíduo e a totalidade, ao afirmar: “eu próprio não consigo divisar em mim esse ‘sentimento oceânico’. Não é fácil trabalhar cientificamente os sentimentos. (…) Por experiência própria não pude me convencer da natureza primária de tal sentimento. Mas isso não me autoriza a questionar sua ocorrência em outros.”
O fato é que essa perspectiva freudiana acerca das origens dos distúrbios que perturbam a psique humana parece reforçar a ideia de que o homem forjado nessa cultura patriarcal é um animal desenraizado de sua condição natural. Isto é, ao longo dos 350 mil anos de sua trajetória evolutiva, foi apenas nos últimos seis ou sete mil anos que, ao tornar-se “civilizado”, o homo sapiens também viu-se culturalmente apartado de sua condição biológica. A partir da cultura patriarcal instalada, o animal humano passa a negar que é parte da natureza, suscetível à entropia e constitutivamente dependente dos outros, incluindo-se todos os seres vivos e não vivos com os quais mantém uma inescapável relação de interdependência. A negação daquilo que o vincula à natureza passa a alimentar as suas fontes de sofrimento, tal como indicado por Freud. A partir de então, um modo de viver intratável estava posto e uma sucessão de guerras, massacres e destruições passaram a fazer parte do que entendemos por civilização e do que está por trás do martírio humano.
Assim, as três fontes do sofrimento humano, “a fragilidade de nosso corpo”, “a prepotência da natureza” e “as relações com os outros”, identificadas por Freud, todas elas ainda mais exacerbadas na atualidade, no fundo são fenômenos imbricados que provêm da mesma raiz, a cultura patriarcal, e, portanto, podem representar um bom diagnóstico sobre como opera o modo de viver desse animal humano desenraizado que vem arrastando a humanidade para a escuridão. O homem, ao longo do seu conflituoso processo civilizatório, ao tentar inutilmente escapar de cada uma dessas fontes de sofrimento humano, só tem aprofundado a agonia civilizatória que marca os tempos atuais. Vejamos, a seguir, alguns breves aspectos que explicam como os tais sofrimentos apontados por Freud se desdobram a partir do patriarcado.
1) A fragilidade do nosso corpo – a obsessão pela imortalidade
Para conviver com este alegado infortúnio de termos que sucumbir diante da inescapável entropia do mundo físico, o homem nunca deixou de tentar ludibriar o processo de envelhecimento que culmina na morte, buscando refúgio principalmente nas religiões. A que ganhou maior expressão foi o cristianismo, especialmente durante o longo e sangrento período em que a humanidade ficou sob o domínio do Sacro-Império Romano Germânico (800-1806). O comércio de indulgências, por exemplo, que remonta aos éditos papais desde o século XII, era o meio mais praticado para aliviar o sofrimento causado pela inaceitável perspectiva de uma morte e de um implacável acerto de contas celestial gerado pelo estímulo das religiões ao sentimento de culpa.
Mesmo depois de Charles Darwin, com sua proposta da Teoria da Evolução das Espécies (1859), e outros pensadores após dele – como o próprio Maturana –, nos colocar cada vez mais lado a lado com os nossos parentes animais, o homem insistiu em continuar sendo diferente das outras espécies que habitam nosso planeta, e manteve sua obsessão em escapar da morte, por meio de sistemas de crenças que enveredaram pela utilização de diversas elaborações metafísicas de tentativa de controle da realidade, como parece ser o caso de muitas religiões monoteístas. Criaram-se e alimentaram-se também muitos artifícios e correntes de pensamento místicas como ocultismo, psiquismo, criogenia, e movimentos como os “Construtores de Deus” (fundado após a fracassada revolução russa de 1905, por Maksim Gorki e Anatóli Lunatcharski) para tentar driblar a morte. Todas essas fantasias são reflexos da apropriação da verdade que caracteriza a cultura patriarcal milenar.
Agora na contemporaneidade, o homem vem se refugiando cada vez mais no mito do progresso proporcionado pelos algoritmos. O chamado transumanismo, inaugurado no Vale do Silício, nos anos 1980, aposta todas as fichas nas benesses que a tecnologia pode oferecer aos humanos, incluindo a imortalidade a partir da possibilidade de transferência da mente (Mind Upload), como preveem futuristas como o estadunidense Ray Kurzweil e o austríaco Hans Moravec, e que Mark Zuckerberg pretende inaugurar em breve com o seu Metaverso. Já existe até uma narrativa amplamente difundida e aceita, como vem propondo Yuval Harari, professor israelense de História, de que o homo sapiens estaria a caminho de se tornar homo deus, em que uma espécie de tecnoimortalismo poderá um dia nos livrar de vez da entropia impingida ao nosso corpo. Ao que parece, a fantasia da busca do aprimoramento da humanidade e da perfeição humana não tem limites.
2) A prepotência da natureza – a ilusão de querer dominá-la
O advento da ciência moderna, a partir do século XVI, teve uma contribuição importante nesse processo de apropriação da natureza e legitimação da sua devastação. O método científico levado a cabo por Francis Bacon, por exemplo, impôs a ideia de que “deve-se torturar a natureza até que entregue todos os seus segredos”. O animal humano estava, desse modo, autorizado pela ciência, por meio da técnica, a promover a extração dos recursos naturais para assegurar o bem-estar da humanidade, preceito que vem sendo aplicado rigorosamente até os dias atuais.
Ao tentar contornar esse inelutável sofrimento gerado por uma verdadeira cruzada contra a natureza, o homem acabou por desencadear dois fenômenos de escala planetária. O primeiro foi o especismo, termo cunhado pelo psicólogo britânico Richard Ryder, que diz respeito à crença na superioridade da espécie humana em relação às demais espécies. O segundo, decorrente do especismo, é o processo de extinção em massa da vida na Terra, que está nos levando rumo a uma “era da solidão”, como bem observou o biólogo Edward O. Wilson, que preferiu chamar de Eremoceno esse período de supremacia da espécie humana sobre as outras espécies, amplamente conhecido por Antropoceno.
O resultado desse longo processo de subordinação da natureza aos caprichos patriarcais foi desastroso. Há 12 mil anos, tínhamos apenas 4 milhões de habitantes no planeta. Após a revolução agrícola, esse número foi se elevando gradualmente. Com a consolidação da Revolução Industrial na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a partir da primeira metade do século XIX, o crescimento da população mundial passou a ocorrer exponencialmente. Só nos últimos quarenta e seis anos, o número de seres humanos dobrou em relação a todo o período de evolução do Homo sapiens, estimado em torno de 350 mil anos. Passamos de 4,06 bilhões em 1975 para 7,9 bilhões em 2021. Os humanos e os animais criados por eles ocupam hoje 97% da área global considerada área ecúmena (área habitável), restando apenas 3% para os animais silvestres. Segundo o Relatório Planeta Vivo (2020), divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), entre 1970 e 2016, as populações desses vertebrados silvestres sofreram uma redução de 68%, o que evidencia que o animal humano desencadeou uma nova extinção em massa da vida na Terra.
3) As relações com os outros – a guerra como modo de vida
A melhor forma de validar essa verdade freudiana, de que o sofrimento humano decorre da dificuldade da relação entre os humanos, é observando como a guerra tornou-se parte do que significa ser humano. O filósofo político britânico John Gray chega a afirmar que a guerra faz parte da diversão humana. Ele cita uma frase do filósofo pacifista Bertrand Russell que, após vivenciar as agruras da Primeira Guerra Mundial, reviu a sua posição em relação à natureza humana e conclui: “eu havia imaginado que a maior parte das pessoas gostava mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa, mas descobri que gostavam ainda mais da destruição.”
De fato, a guerra é tão entranhada em nosso modo de viver que sempre fez parte inclusive da distração humana, desde os jogos olímpicos na Grécia Antiga. Na época contemporânea, a indústria cinematográfica, por exemplo, praticamente se sustenta em projetar aquilo que a nossa civilização considera a “arte da guerra” – expressão originada a partir do tratado militar escrito durante o século IV a.C. pelo general estrategista e filósofo chinês Sun Tzu, depois reforçada em outra obra de sete volumes, escrita entre 1519-1520, do renascentista italiano e filósofo político Nicolau Maquiavel.
Para constatarmos o quanto a percepção de Russell realmente condiz com o comportamento humano, basta fazermos uma consulta rápida na vasta base de informação da enciclopédia colaborativa Wikipédia. O conteúdo já gerado nessa plataforma sobre a expressão “guerra”, ao contrário do seu contraponto, a “paz”, é vastíssimo. Lá existem 33 tipificações para a guerra, distribuídas em 5 modalidades (segundo a intensidade do confronto, a abrangência do conflito, a forma, a causa do confronto bélico e o tipo de armas estratégicas utilizadas). E ainda percebe-se que essa lista não menciona algumas sofisticações mais recentes da beligerância humana, como as chamadas guerras híbridas, guerra cibernética, lawfare, dentre outras.
O conteúdo inclui muitas informações reveladoras sobre a íntima vinculação entre civilização e barbárie. Por exemplo, há duas longas listas de guerras em ordem cronológica, uma entre países e outra de guerra civis, que abarcam o período compreendido desde a antiguidade aos dias atuais, sendo que 23 dessas guerras listadas estariam atualmente em andamento. O terrorismo, que tem sido muito recorrente nas décadas mais recentes, é outro tópico também muito destacado sobre o assunto. Nele há o registro de que, só no período de 2000 a 2014, ocorreram 72.135 atentados terroristas, o que representa 13 ataques por dia. Os números da mortandade gerada pelas guerras, desde épocas remotas, representam algo que dissipa qualquer resquício de esperança no animal humano.
Já o termo “paz” é reduzido a um diminuto volume de informação em que encontramos apenas três tipificações. Contraditoriamente, todas elas são uma derivação da condição de estado de guerra que sustenta a dinâmica do Estado-nação, inaugurado após as turbulências da Revolução Francesa: as chamadas “Paz Eterna” e “Paz pela Lei”, originadas a partir da ideia kantiana de “paz perpétua”, e a “Paz pela força”, imposta pela autoridade do Estado e de suas instituições.
Como a própria história tem demonstrado, não há sociedade civilizada fora de uma perspectiva de estado de guerra permanente entre os homens, mesmo que esta seja justificada para assegurar alguns espasmos de paz controlada, até que sobrevenha a próxima (e cada vez mais destrutiva) guerra. O trágico século XX, no qual se travou o Grande Jogo por duas vezes, confirma esse fato. E o novo milênio que se inicia, prometendo ser marcado por mudanças climáticas, superpopulação, escassez de recursos naturais e hipervigilância dos algoritmos, tem tudo para nos reservar uma nova fase de regressão inaudita. Enfim, Russell e Freud são irrefutáveis ao constatar a inclinação humana para a matança, ao longo do nosso conflituoso e sangrento processo civilizatório forjado pelo patriarcado.
O preço do desejo de moldar o mundo: a perspectiva do colapso
Apesar da humanidade já ter experimentado algumas mudanças de épocas históricas, como ocorreu na passagem do agrarianismo, inaugurado cerca de dez mil anos atrás, para o industrialismo (1760-1840), todo o longo processo civilizatório foi sustentado pela prevalência da cultura patriarcal, cuja principal meta é querer moldar o mundo segundo a sua imagem. Nas décadas mais recentes, estamos nos defrontando, mais uma vez, com uma profunda mudança de época histórica, refletida na aguda, progressiva e aparentemente inescapável crise civilizatória. Ela tem se manifestado especialmente na acelerada devastação dos ecossistemas – e, por consequência, nas mudanças climáticas irreversíveis que, segundo relatórios mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), tratam-se irrefutavelmente de um fenômeno antrópico –, no crescente declínio dos regimes democráticos, que vem acompanhado da debilitação da ideia de Estado-nação, e na manipulação da vida e do comportamento humano por meio da revolução (melhor dizer involução) algorítmica.
Dentre as muitas análises e narrativas que tentam compreender e explicar as diversas crises enfrentadas pela nossa civilização – e a atual, diferentemente das anteriores, tem gerado uma vulnerabilidade de alcance planetário –, não é incomum atribuir suas raízes a fatores externos às pulsões humanas, como frequentemente tem ocorrido em outros momentos de profunda regressão civilizatória, isto é, valendo-se de interpretações metafísicas acerca da realidade, não raro de cunho religioso.
A história da civilização foi forjada a partir de cosmovisões amparadas em sistemas de pensamento lastreados na crença em supostas entidades acima da vontade humana, sempre prevalecendo os mitos mais próximos de Tânatos do que de Eros – retomando aqui as formulações sobre as tensões da psique humana, tão bem elaboradas por Freud. Praticamente todo o nebuloso percurso civilizatório tem sido condicionado, até os dias atuais, por visões teleológicas (a ideia de que a história tem uma finalidade) e escatológicas (e também um fim) por trás das crenças milenaristas – a convicção de que o tempo é linear e, portanto, a história é regida por um Princípio e um Fim. Este Fim, que nunca se concretiza, seria demarcado, no caso da religião anunciada pelo Apóstolo Paulo, pela volta de um Cristo salvador. Um bom aprofundamento sobre esse assunto está no livro Missa negra – religião apocalíptica e o fim das utopias (Record, 2007), do filósofo político John Gray, um escritor infelizmente pouco conhecido aqui no Brasil, para quem “o mundo em que vivemos no início do novo milênio está coberto de escombros de projetos utópicos, os quais, embora estruturados em termos seculares que negavam a verdade da religião, constituíam de fato veículos para os mitos religiosos”.
Na sua permanente busca por uma vida ambiental, social e materialmente melhor, que lhe proporcionasse imunidade às adversidades e contingências inerentes à realidade, dando-lhe mais segurança, abundância e liberdade, o que o animal humano realmente conseguiu foi caminhar cada vez mais em sentido contrário do que ele pretendia, isto é, rumo a mais insegurança, precariedade e escravidão. Hoje nos encontramos diante de uma crise civilizatória que nos colocou numa situação de vulnerabilidade global jamais vista e que vem nos arrastando cada vez mais rápido em direção ao colapso. Vivemos uma crise existencial. Esta é a grande questão em aberto nesta mudança de época histórica, como vêm alertando muitos biólogos, antropólogos, historiadores e climatologistas, dentre os quais estão Jared Diamond, Philippe Descola, David Attenborough, Michael Mann, Gilles Boeuf, James Lovelock, Frédéric Keck, Pablo Servigne, James Hansen, Bruno Latour, Valérie Masson-Delmotte e muitos outros.
Ao longo da história, inúmeras formulações têm sido elaboradas por cientistas sociais para tentar equacionar esse conflituoso e destrutivo modo de viver humano. Desde quando os regimes absolutistas foram sufocados pela ascendência de novos atores políticos – os burgueses do tiers état – durante a Revolução Francesa (1789), a abordagem predominante para lidar com esta questão tem se resumido à dicotomia ideológica: modelar o mundo ou pelo laissez-faire ou pela planificação a cargo do Estado.
Até hoje prevalece a polarização em torno das duas grandes metanarrativas fracassadas que disputaram hegemonia ao longo do século XX, o capitalismo e o socialismo real, tendo aquela se sobressaído sobre esta, a ponto de grande parte do Ocidente ter acreditado na ideia hegeliana de Fim da História (1989) e, a partir dessa fantasia iluminista, ter se lançado, sob a liderança dos EUA, à insensatez de impor o ideário do “capitalismo democrático” ao resto do mundo, sob o falso imperativo da necessidade de levar a cabo uma cruzada de “guerra ao terror”, renovando-se e ampliando-se mais uma vez o terror patrocinado pelo Estado. As novas configurações geopolíticas deste início de milênio, com a entrada da China no tabuleiro do novo capitalismo de vigilância, indicam que provavelmente ainda ficaremos presos por um bom tempo a essa lógica de qual ideário oferece a melhor proposta para moldar o, agora, bastante admirável e inebriante novo mundo high-tech.
Apesar dos sucessivos e crescentes desarranjos geopolíticos, das permanentes desigualdades regionais, dos muitos genocídios já perpetrados e da constante devastação ambiental, que acompanharam toda a história da civilização, agora agudizados neste início de milênio, a abordagem prevalente para entender a conflituosa convivência humana continua sendo a mesma, a de tentar moldar o mundo segundo as ideologias político-religiosas criadas pelo ímpeto de dominação patriarcal. Como resultado desse longo processo, o capitalismo alcançou uma hegemonia global que transformou em mercadoria todas as nuances da vida humana. Sob a ilusão de que só por meio do progresso tecnológico e do crescimento econômico será possível a superação da atual crise planetária, o animal humano termina por agravá-la cada vez mais.
Desde que o mundo ficou sob a tutela do cristianismo, e até mesmo antes, esta foi a noção de realidade prevalente que sempre ofuscou a percepção humana e alimentou as mais diversas correntes de pensamento, inclusive vigentes ainda hoje na política contemporânea. Essa cegueira cognitiva infelizmente habita não só o imaginário do senso comum e de uma considerável parcela do mundo acadêmico, mas especialmente daqueles que detêm um maior poder para mudar nossa trajetória de colapso civilizatório, que são os nossos atuais líderes políticos, a maioria subordinados a um punhado de megacorporações transnacionais que ditam os rumos do nosso sistema-mundo capitalista predatório e ecocida.
Se algum dia a consciência humana conseguir se abstrair dessas distorções cognitivas, ela perceberá que no cerne de todas essas regressões, tanto no passado quanto no presente, hoje profundamente desestabilizadoras, está o conflituoso impulso humano, cujas raízes estão intimamente associadas ao modo de viver ancorado na cultura patriarcal instalada desde o neolítico.
É possível enraizar novamente, ou pereceremos na agonia da prisão patriarcal?
Para compreendermos as causas dos atuais impasses civilizatórios, precisamos de uma abordagem que tente ir além das ideologias políticas que inviabilizaram o século passado. Essa ideia de que o animal humano foi desenraizado pela cultura patriarcal, conforme tratado aqui, parece ser o único caminho para apaziguar os conflitos internos que separaram o homem de si mesmo. Nela talvez esteja a chave para compreendermos o comportamento humano que, ao contrário da dinâmica da teia da vida, tem sido movido, ao longo do percurso civilizatório, mais por uma pulsão de morte (Tânatos) do que pela preservação da vida (Eros), como bem observou Freud.
Até ao início da segunda metade do século XX, embora o processo civilizatório sempre estivesse ancorado na cultura patriarcal, ainda era possível observar uma considerável parcela da humanidade não totalmente desenraizada. Muitos povos, em diversas partes do mundo, viviam em regimes comunitários com pouco ou nenhum contato com as instituições hierárquicas do mercado, do Estado e das grandes religiões monoteístas, que forjaram a ordem civil nos grandes centros urbanos. Esses povos conseguiam, conforme as suas circunstâncias e tradições, desenvolver e manter modos de vida mais integrados e adaptados às suas condições ambientais.
Com a chegada do neoliberalismo, a partir dos anos 1970, impulsionado pelo mito do progresso econômico e tecnológico, e o consequente advento do fenômeno da globalização da lógica capitalista, passando a interferir nos mais diversos campos da experiência humana, quase todos os rincões do planeta foram homogeneizados pela cultura do individualismo, do consumo e da acumulação de bens. Atualmente, ainda é possível perceber algum enraizamento naqueles que lidam com a arte, nos poucos que fazem uma ciência desapegada da primazia da razão, nos povos originários remanescentes dos muitos genocídios patrocinados pelo patriarcado e numa parcela insignificante de pessoas que não se dobraram ao fetiche da mercadoria, do espetáculo, da virtualização, do consumo e da acumulação.
Após essa hegemonização da visão de mundo tecnoeconomicista, só restou ao animal humano o fechamento em si mesmo, aquilo que o filósofo sul-coreano Byung-Chu Han chama de “sociedade do cansaço”, em que o indivíduo passou a se ver como o “empresário de si mesmo”, tornando-se senhor e escravo, algoz e vítima ao mesmo tempo. O narcisismo, o consumismo, a sociedade do espetáculo e a relação fria com os algoritmos passaram a (des)nortear a vida humana atomizada e a agudizar ainda mais as patologias físicas e mentais. Estamos vivenciando uma nova configuração do modo de viver patriarcal, agora ampliada globalmente, com uma crescente massa de excluídos do sistema produtivo capitalista, vivendo em condições brutais de desigualdade e de precarização da vida, numa escala jamais vista na história, que provavelmente ainda deverá se exacerbar nas próximas décadas.
Nossa crise civilizatória é também uma crise de percepção da realidade. As descobertas de Darwin dissiparam qualquer possibilidade de termos algum privilégio evolutivo em relação às outras espécies animais. Mais recentemente, as contribuições da ciência para a compreensão da imbricada dinâmica da vida, a partir de nomes como Einstein (relatividade) Heisenberg (incerteza), Prigogine (neguentropia), Lorenz (atratores caóticos), David Bohm (ordem implicada), Henri Atlan (auto-organização), Mandelbrot (fractais), Morin (pensamento complexo), Maturana e Varela (autopoiese), Jacques Monod (acaso e necessidade) e de tantos outros, demonstraram que estamos enredados numa misteriosa teia de processos adaptativos complexos. Ainda assim, o homo rapiens – como bem caracterizou o filósofo John Gray –, surgido no neolítico, continua a insistir no propósito de um dia conseguir forjar uma realidade totalmente governada pelos mitos criados a partir da sua ilusão patriarcal dominadora, atualmente traduzida no progresso, na razão, no individualismo e nos algoritmos. Gray intuiu bem essa nossa crise de percepção ao afirmar: “outros animais não precisam de um propósito na vida. Uma contradição em si mesmo, o animal humano não pode passar sem um. Será que não podemos pensar o propósito da vida como sendo simplesmente ver?” Conseguirá o animal humano recuperar essa simplicidade e voltar a ver o que os outros animais veem?
Uma reflexão que pode nos fornecer algumas pistas para vislumbrarmos essa possibilidade de ampliação da percepção humana e de uma recuperação do nosso enraizamento, pelo menos no plano individual, está na obra Meditaciones del Quijote (1914), escrita por um dos filósofos mais notáveis da Espanha, José Ortega y Gasset (1883-1955), que em uma de suas passagens expressa a condição humana nos seguintes termos:
“Pondo muito cuidado em não confundir o grande e o pequeno; afirmando em todo momento a necessidade da hierarquia, sem a qual o cosmos volta ao caos, considero de urgência que dirijamos também nossa atenção reflexiva, nossa meditação, ao que se acha perto de nossa pessoa. O homem rende o máximo de sua capacidade quando adquire a plena consciência de suas circunstâncias. Por elas comunica-se com o universo.
(…) Eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo a ela não me salvo eu.”
Se quisermos compreender as origens dos conflitos que degeneraram o modo de viver humano e que estão minando o futuro das próximas gerações, precisamos colocar o animal humano no cerne das nossas reflexões para lidarmos melhor com os impasses de nossa época. Chegou o momento de voltarmos nossas atenções para a compreensão da condição humana, como propõem Ortega y Gasset, Maturana, Freud, Gray e tantos outros. Esta talvez seja a grande tarefa neste início de século, se realmente desejamos ver alguma possibilidade de enraizamento e de reintegração à complexidade da vida na Terra, que vem dando claros sinais de que alguns limites de sustentação da nossa civilização já foram ultrapassados.
A travessia do novo milênio tem tudo para ser insuportável. Só nos resta agora acreditar que a agonia abissal que se avizinha, e que ameça a existência humana, seja parte de um doloroso processo de reconciliação, em que o homem perceberá e reaprenderá com o lobo e os outros animais – que conhecem bem melhor a sua circunstância – que não vale a pena continuar desenraizado pelo absurdo de pretender construir um mundo tal qual sua quimera patriarcal.
Oxalá essa imponderável reconciliação seja possível – e que o tempo ainda esteja a nosso favor!
Referências
BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interrupção da interpretação da natureza. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
GRAY, John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais. Rio de Janeiro: Record, 2006.
GRAY, John. Missa negra – religião apocalíptica e o fim das utopias. Rio de Janeiro: Record, 2008.
GRAY, John. Sete tipos de ateísmo. Rio de Janeiro: Record, 2021.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015.
LA BOÉTIE, Étienne. Discurso Sobre a Servidão Voluntária (1549). L.C.C. Publicações Eletrônicas, 2006. Disponível AQUI.
MARIOTTI, Humberto. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013.
MATURANA, Humberto R.; VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano. São Paulo: Palas Athena, 2004.
ORTEGA Y GASSET, José. Meditações do Quixote. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1967.
SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e como Representação. Tomo I. São Paulo: UNESP, 2005.
SIGMUND, Freud. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
TEIXEIRA, Anderson V. Comparativo entre os pensamentos de Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Rousseau (1712-1778) e John Locke (1632-1704). Disponível AQUI.
WWF. Relatório Planeta Vivo 2020: reversão da curva de perda de biodiversidade. Gland, Suíça: WWF, 2020. Disponível AQUI.


Antônio Sales Rios Neto: escritor e ativista político e cultural