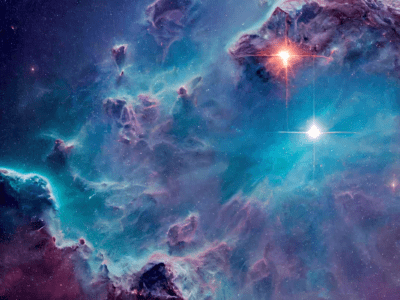O som de sua voz | Adriano B. Espíndola Santos
Era os remotos idos de 1992. Com onze anos, eu não tinha noção da existência. A vida, para mim, era desilusão. Eu estava mesmo prestes a entregar os pontos sem ao menos ter começado a partida. Com a separação de Luzia e Nicodemos, meus pais, fui despachado para a casa de minha avó, numa noite fria, em meados de abril, para a cidade longínqua de Aracatiaçu. Ou seja, fiz o caminho inverso de minha mãe, que muito nova foi para a cidade grande à procura de emprego e melhores condições. Dona Elisete me esperava, no raiar do dia, na rodoviária da região. Logicamente, não a conheci. Eu nunca teria passado mais que dois dias com ela, com aquela que seria a minha nova mãe. No entanto, quando desci do ônibus, ela correu, atravessou um batente, e quase me sufocou num abraço apertado, aos prantos. Parecia que havia morrido alguém. Até a hora de pisarmos em sua residência humilde, ainda não tinha ouvido o som de sua voz. “Meu filho, esse vai ser o nosso cantinho… Ali é onde você vai dormir, perto da cama da vovó”. Ela apontava com dificuldade, acometida de tremores. Vendo o seu estado, pensei que a sina seria cuidar de uma idosa prestes a morrer. Ela tinha o olhar muito baixo, a cabeça meio emborcada, virada para um dos ombros, e os braços estirados, lânguidos, como de um louva-a-deus. E o medo também era de me assustar com a sua figura à noite, se eu precisasse ir ao banheiro ou à cozinha. O primeiro dia foi horrível, porque chorávamos os dois por razões distintas; ela, certamente por ter de receber uma incumbência dessa, e eu, por estar deslocado de minhas frágeis raízes. Mas ela foi me cativando pela maneira carinhosa da suma e intrínseca maternidade. Colocava uma das mãos na minha cabeça e fazia cafuné, a perder de vista e de hora. Alisava o meu braço, com uma pele fina, que mais parecia uma seda puída. E, assim, ia preparando “agrados” variados, como paçoca, milho verde, bolo mole, cuscuz com leite, com ovo, com carne seca, e café – a sustância era praticamente o café e o cuscuz; estavam à mesa todos os dias. Com algumas semanas, a tristeza era uma alma penada que aparecia de tempos em tempos, em especial no cair da noite. Eu chorava escondido, para não prejudicar a minha avó, para ela não pensar besteira a meu respeito; que eu não estava gostando; que era mal-agradecido; pois, de outra forma, se ela me enjeitasse, o que seria de mim largado à própria sorte? Fui me acostumando com a vidinha cômoda, regular, com as afeições e com o que seria a minha nova realidade. Dona Elisete, então, resolveu me matricular numa escolinha do governo, em outra cidade, em Ubajara. Eu tinha de pegar uma condução todo dia cedo, seis e meia da manhã, para estar às sete na escola. Digo que o contato com os colegas e com a professora me deram um novo fôlego. Foi aí que comecei a viver, de verdade. Estava satisfeito com o que não havia escolhido, mas que, por sorte, era do meu agrado; e vovó me acomodava em seus quereres. Mas a fatalidade nos alcançou. Quatro anos mais tarde, quando parecia que tudo se aprumava, vó caiu doente. Dizia que era “espinhela caída” e que tinha uns preparos para se curar. Não sucedia resultado positivo. O quadro ia se agravando, até o ponto de ela não poder mais andar e, por isso, eu ter de parar de ir à escola. A grande questão é que, quase sem recursos, devíamos confiar na ajuda dos políticos da região, que, nas horas cruciais, fugiam. A médica do posto disse que vó teria de fazer exames na capital. Esperamos dois meses por um transporte da prefeitura. A viagem foi sofrida, porque vovó gritava de dores a cada sacolejada provocada pelo motorista espezinhador. Ao chegarmos a Fortaleza, fomos prontamente atendidos. O médico não fez arrodeios para dizer que vovó estava com câncer nos ossos. Ela gemia, mesmo com morfina, a ponto de eu mal poder reconhecer o som sublime de sua voz dos bons tempos. O período da tortura durou um mês – para o bem ou para o mal. Tive de voltar à casa de minha mãe e aturar a sua nova família repleta de regras e nenhum cuidado. Só penso que isso tudo aconteceu para que eu ajudasse vovó, para que eu aprendesse a lidar com as dificuldades e para nunca mais esquecer o som de sua voz. Eu sei que ela ainda me guia em profundos pensamentos.


Foto de Adriano B. Espíndola Santos.
Adriano Espíndola Santos é natural de Fortaleza, Ceará. Em 2018 lançou seu primeiro romance “Flor no caos”, pela Desconcertos Editora; em 2020 os livros de contos, “Contículos de dores refratárias” e “o ano em que tudo começou”; em 2021 o romance “Em mim, a clausura e o motim”, pela Editora Penalux; e em 2022 a coletânea de contos “Não há de quê”, pela Editora Folheando. Colabora mensalmente com as Revistas Mirada, Samizdat e Vício Velho. Tem textos publicados em revistas literárias nacionais e internacionais. É advogado civilista-humanista, desejoso de conseguir evoluir – sempre. Mestre em Direito. Especialista em Escrita Literária e em Revisão de Textos. Membro do Coletivo de Escritoras e Escritores Delirantes. É dor e amor; e o que puder ser para se sentir vivo: o coração inquieto.
instagram.com/adrianobespindolasantos/ | facebook.com/adrianobespindolasantos
adrianobespindolasantos@gmail.com